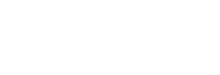No dia 15 de março de 2023, a pesquisadora Sara Munhoz reuniu-se com a pesquisadora do INB, Júlia Albergaria, para contar sua trajetória de formação. Para contar essa história, ela apresentou como marcos referenciais os livros mais fundamentais de sua vida. Sara ganhou o 1º lugar da categoria Pós-Graduação Stricto Sensu do Prêmio Raymundo Magliano Filho pelo trabalho “A paixão do acesso: uma etnografia das ferramentas digitais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Laços de família, amor e trajetória
Minha família é composta por várias pessoas envolvidas com a prática da educação. Embora meu pai trabalhe na indústria desde meu nascimento, minha avó, várias tias e primos deram aulas a vida toda na educação básica e superior. Minha mãe, por sua vez, ainda leciona em uma escola municipal de educação infantil em minha cidade, no interior de São Paulo. Como cresci cercada de mulheres professoras, tornou-se natural para mim seguir esse caminho.
Durante minha juventude, incentivada por excelentes professoras de português e de história, costumava gostar de ler. Na minha casa, tínhamos alguns livros. Não posso dizer que era uma casa com uma vasta biblioteca, mas quando pedíamos algo para ler, meus pais procuravam conseguir, tanto para mim como para meus três irmãos mais novos. O hábito da leitura, ainda que não imposto, era valorizado e incentivado pela família. Mas, na verdade, o que mais me motivou a sustentá-lo no início da adolescência, a despeito do acesso significativamente restrito aos livros nas escolas públicas que frequentei, foi o meu primeiro amor. Felipe, que hoje é meu companheiro e pai dos meus filhos, estudou por muitos anos nas mesmas escolas que eu, sempre dois anos à minha frente.
Quando fui para a quinta série, começou a me emprestar os livros da Coleção Vagalume, o que se tornou uma desculpa para começarmos a conversar com mais frequência. Já éramos bons amigos, mas essa foi a fase em que nossa relação começou a mudar, bem aos poucos. Eu li toda a coleção, tudo muito rapidamente, só para poder devolver os livros e ter a oportunidade de falar com ele. Os livros também transportavam as cartas que trocávamos. A história que começou, assim, meio despretensiosamente, há mais de 20 anos com os livros da Coleção Vagalume, segue firme até hoje. Mês passado estávamos lendo o Mistério do Cinco Estrelas com nossos dois filhos. Há vários problemas no roteiro, é verdade, coisas que eu sequer percebia à época (o que, por si só, já indica um outro problema). Mas foi muito interessante nos reunirmos ao redor de uma história, depois de tanto tempo, inclusive para localizá-la no tempo e no espaço em que foi escrita, questionando-a e atualizando-a.
No ensino médio, estudei em uma rede particular de ensino. Em minha unidade não tínhamos biblioteca acessível, o que restringia ainda mais o contato com os livros. Foi nessa época que comecei a ser incentivada a direcionar completamente minha atenção ao vestibular e senti os efeitos de um sistema voltado à prática incessante de exercícios, e não ao desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia literária e da ampliação dos interesses educacionais. Nos últimos anos do ensino médio, mantive o interesse pelas aulas de história e decidi prestar vestibular para este curso na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Passei nos dois. E em Letras, na Unesp. No entanto, como também tinha vontade de aprender mais sobre política, decidi prestar Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), localizada em minha cidade natal. Antes de iniciar o curso, não sabia nada sobre Sociologia ou Antropologia, e nem mesmo tinha ouvido falar sobre essas disciplinas. Vale lembrar que a obrigatoriedade da Sociologia no ensino médio viria um pouco depois de 2007, ano em que ingressei na UFSCar. Ainda assim, quando procurei saber sobre a estrutura do curso, com formação sólida em política, história e economia, decidi arriscar. A escolha, um tanto ingênua, arrastou-me para caminhos absolutamente inesperados aos meus 18 anos. Ainda assim, acho que foi das melhores escolhas que já fiz.
O início da graduação
Desde o início da graduação na UFSCar fui impelida a aumentar significativamente minha carga de leitura. Vinda de um sistema apostilado de ensino, considero que aprendi a ler, a fichar, a interpretar e, principalmente, a escrever, de um modo absolutamente novo em minha graduação. Rapidamente, confirmei minha intuição inicial e meu interesse pela Ciência Política se destacou em relação às outras áreas. No final do primeiro ano, comecei a pesquisar o processo Constituinte de 1987-88 em uma iniciação científica que um tempo depois seria financiada pela Fapesp e desembocaria em minha monografia de conclusão de curso. Naquele momento, comemorávamos os 30 anos da Constituição Cidadã, então algumas pesquisas na universidade se voltavam para esse importante marco de nossa história recente. Meu objeto de atenção privilegiada foi a formação e atuação de um bloco suprapartidário denominado, à época, “Centrão”, que influenciou decisivamente a mudança no regimento interno da Constituinte e o desenho final que nossa Carta Magna assumiu. Naquela época, eu não poderia prever as semelhanças com o cenário político atual, e o protagonismo que um certo “Centrão” assumiria nas crises políticas que vivemos nos últimos anos. Sempre adorei trabalhar com arquivos e tive uma excelente professora de Ciência Política, Simone Diniz, que, embora não tenha me orientado oficialmente, ajudou muito com a bibliografia e o método nesta minha primeira incursão na pesquisa acadêmica.
Embora eu tenha optado muito rapidamente pela Ciência Política como a ênfase escolhida em meu curso, sofri uma mudança de rota bastante peculiar, concluindo minha pós-graduação na Antropologia Social. O interesse pela área foi despertado logo no segundo ano de curso, ainda que tenha demorado alguns anos para amadurecer completamente. Em 2008, me matriculei em uma disciplina obrigatória chamada “Pesquisa Qualitativa”, ministrada por Jorge Villela, que era dedicada a apresentar aos futuros bacharéis o método etnográfico. Foi nesse momento que senti, definitivamente, a cisão entre o modelo escolar que ainda estava bem arraigado em mim e o universitário, no qual, aos poucos, eu estava sendo treinada. A universidade não deveria ser, como talvez eu ainda imaginasse naquele ponto, um lugar de recepção passiva do conhecimento. Compreendi que o conhecimento é uma construção coletiva e contínua, mas que também requer autonomia, criatividade e um impulso irresistível ao que nos interessa e nos motiva. Eu, que sempre me imaginei professora, comecei a vislumbrar também os encantos sedutores da pesquisa. Jorge realmente cativou minha turma de forma inspiradora. Não é sempre que isso acontece, e não foi este o único curso pelo qual a turma de 2007 se apaixonou. Mas foi um verdadeiro acontecimento. E em um momento muito fecundo das universidades públicas federais: 40 alunos sedentos, ansiosos para ouvir, para discutir e para expandir seus horizontes. Não por acaso, uns anos depois, desviei-me definitivamente para a Antropologia e escolhi Jorge como orientador de minha dissertação e tese doutoral.
Foi nessa época, com apenas 19 anos e com pouca experiência em leitura acadêmica, que tive meu primeiro contato com a obra “Mil Platôs” de Deleuze e Guattari, e discutimos pela primeira vez o conceito de “rizoma”. Em seguida, meu grupo e eu apresentamos um seminário sobre uma etnografia de Loïc Wacquant e o texto “Ser afetado” de Jeanne Favret-Saada. Trata-se de um belíssimo artigo metodológico, que certamente mudou meus caminhos profissionais.
A participação neste curso, e em todas as outras disciplinas obrigatórias e eletivas de Antropologia cursadas na sequência arrastaram-me , a despeito da iniciação científica, para a nova área. Além disso, devo mencionar também o encontro com o Hybris – Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Relações de Poder, Conflitos e Socialidades, que passei a frequentar em 2009. Fazer parte de um grupo de pesquisa em que professores, alunos de graduação e de pós-graduação compartilham leituras, produções em andamento, ideias em construção em um ambiente de fecunda liberdade e seriedade intelectuais é o que tem me ensinado, ainda hoje, a fazer Antropologia.
No terceiro ano, tive a oportunidade de cursar um semestre na Universidade do Minho, em Portugal, totalmente financiada pelo Programa Erasmus Mundus, em uma das parcerias internacionais – frequentes à época, muito mais escassa atualmente – com a UFSCar. Na volta, consegui dar sequência ao financiamento da Fapesp para terminar a pesquisa sobre o “Centrão”. Acho muito importante enfatizar estes financiamentos desde o início de minha trajetória porque foram eles que tornaram possível a condução de meus estudos ao longo de todos estes anos, até o doutorado. As possibilidades de dedicarmos nosso tempo às leituras que fundamentam nossa formação intelectual e profissional estão diretamente relacionadas ao fato de que nossas pesquisas sejam reconhecidas desde muito cedo pelo que, de fato, são: trabalho. São horas de dedicação que precisam ser remuneradas como trabalho. Esse é um dos caminhos possíveis, ao lado das fundamentais políticas de assistência e de permanência estudantis, para o efetivo desenvolvimento de uma geração de pesquisadoras e pesquisadores plurais neste país.
Os caminhos da pesquisadora
Terminada a graduação, ingressei no PPGAS da UFSCar com uma pesquisa a respeito do atendimento a adolescentes autores de práticas infracionais em meio aberto, oferecido por uma instituição salesiana em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Ainda que tenha realizado trabalho de campo, dediquei parte importante da pesquisa à análise de relatórios redigidos pelos técnicos encarregados de atender os meninos em liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Discuti como a forma dos documentos – seus carimbos, assinaturas, anexos, tabelas –, sua redação cuidadosa e seu trânsito entre diferentes instituições efetivava as possibilidades de ressocialização dos meninos, ao mesmo tempo em que arrastava, também, suas famílias para a lógica da documentação, do controle, do governo pastoral do Estado.
Ao encerrar o mestrado, grávida da minha primeira filha, afastei-me um pouco da pesquisa e fui ser o que sempre achei que seria: professora. Acho que fui boa nessa tarefa. Prestei um concurso e dei aulas de sociologia por três anos na rede estadual de ensino, depois de ter concluído minha licenciatura na Unesp. Aprendi muito, na prática da sala de aula. Pude falar de Sociologia, Política e Antropologia para adolescentes como eu mesma nunca tinha tido a oportunidade de ouvir em minha adolescência. Algumas experiências funcionaram, outras falharam miseravelmente, mas acredito que contribuíram, de alguma maneira, à construção do pensamento crítico dos alunos que passaram por mim. Foram anos longe da universidade, em uma realidade absolutamente distinta da que havia vivido na última década. Mas, depois de um tempo, senti saudades da pesquisa, de ser aluna novamente e um impulso irresistível aos arquivos.
Embora pareça não haver qualquer continuidade nesse percurso, ao voltar-me a ele, neste exercício retrospectivo, percebo um interesse constante em temas relacionados à democracia e ao Estado. Além disso, o método de análise documental, o “gosto pelo arquivo”, na expressão de Arlete Farge, permaneceu presente ao longo de toda a minha trajetória. Ao longo de todos esses anos, desde a graduação até o doutorado, tive a oportunidade de fazer vários cursos sobre Michel Foucault com meu orientador, excelente leitor do filósofo. Tive uma formação especialmente sólida sobre a produção de Foucault ao longo da década de 1970 e 80. Lemos não apenas os livros, mas também quase todos os cursos do Collège de France e as entrevistas. Estudamos a fundo a gênese do Vigiar e Punir, que encaramos como uma brilhante etnografia. Mesmo que não utilize com frequência essas referências em minhas próprias pesquisas, elas estão sempre comigo. Considero que acompanham, de alguma maneira, meus interesses e minhas abordagens.
O meu processo de formação foi apaixonado, mas não subserviente. Sempre busquei compreender os autores com profundidade e me inspirar em suas contribuições sobre método e conceitos. Além de Foucault, a etnografia contemporânea também desempenhou um papel muito importante em minha formação. Também tive a sorte de estar em um Programa com excelentes etnólogos no corpo docente e discente, o que enriquece sobremaneira a formação mesmo das antropólogas e antropólogos que, como eu, não realizam suas pesquisas diretamente com os povos originários.
Na UFSCar, diferentemente de outras universidades, embora tenhamos formação clássica durante a graduação e a pós-graduação, a ênfase dos cursos é bastante contemporânea. Dedicamos espaço importante, inclusive das disciplinas obrigatórias, a leituras de etnografias atuais – trabalhos realmente recentes, posteriores a Eduardo Viveiros de Castro e Marylin Strathern, por exemplo. P Parece-me muito rica a possibilidade de interlocução com aqueles que estão escrevendo, com pesquisas saindo do forno. A UFSCar, principalmente ao longo de minha graduação e mestrado, antes do esvaziamento violento causado pela junção catastrófica do último governo federal com a pandemia da COVID-19, era um ambiente absolutamente fecundo e criativo. Acredito que possa voltar a ser agora, assim que novamente ocupada. Fora do centro, mas repleta de gente capaz e engajada, criativa, empenhada.
Tive o imenso privilégio de conviver, por exemplo, com a brilhante antropóloga Karina Biondi, que agora é professora na Universidade Estadual do Maranhão. Suas etnografias do mestrado e doutorado, muito premiadas, foram traduzidas para o inglês e são leitura obrigatória em várias universidades no mundo. Junto e misturado: uma etnografia do PCC e Proibido roubar na quebrada: território, hierarquia e lei no PCC moldaram minha formação como antropóloga. Recomendo vivamente a leitura.
O professor Adalton Marques, que atualmente é professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, também foi colega de Programa de Pós-Graduação e é uma grande influência para mim. Depois de etnografar em seu mestrado as relações entre ladrões, que deu origem ao livro Crime e Proceder: um Experimento Antropológico, investigou o problema da segurança pública no estado de São Paulo, com especial atenção às continuidades entre os modos como a ditadura militar e a democracia cuidaram das questões dos direitos humanos, da expansão carcerária e da legislação penal. O resultado se encontra no impressionante Humanizar e Expandir: uma Genealogia da Segurança Pública em São Paulo.
Gostaria, ainda, de fazer referência a duas coletâneas recentes que também reúnem trabalhos de pesquisadoras e pesquisadores do Hybris (mas não apenas) e merecem atenção pela riqueza etnográfica que congregam e pelos debates político-epistemológicos que promovem: Alquimias do Parentesco, organizado por Ana Cláudia Marques (USP) e Natacha Leal (UNIVASF) e Insurgências, ecologias dissidentes e antropologia modal, organizado por Jorge Villela (UFSCar) e Suzane Vieira (UFG), com capítulo de minha autoria.
Livro e afeto
Mas elencar os trabalhos fundamentais, ordená-los um a um, tal como foram apresentando-se como indispensáveis aos meus próprios trabalhos, é tarefa muito difícil, da qual prefiro abster-me nesse momento. Aproveito apenas para seguir listando de maneira absolutamente parcial algumas poucas etnografias que, riquíssimas para mim, podem também interessar a alguns dos leitores do Blog. Na redação de minha dissertação de mestrado, por exemplo, quando precisava encontrar uma maneira de descrever os documentos que me empenhava em etnografar, Catarina Morawska, minha professora no PPGAS, foi referência incontornável. Sua tese, Os enleios da Tarrafa: Etnografia de uma relação transnacional entre ONGs, inspirou-me enormemente, principalmente no que se refere à metodologia. Se não estou enganada, foi Catarina quem me apresentou a coletânea de Annelise Riles e ela é uma das melhores leitoras de Marilyn Strathern que pude conhecer.
Jorge Villela, Adalton Marques, Catarina Morawska, antropólogos cujos trabalhos acompanho muito de perto, são referências, também, às discussões que proponho no capítulo primeiro de minha tese, a respeito do arquivo digital com o qual me deparei quando procurava a jurisprudência das famílias do STJ. Seus trabalhos me inspiram e ajudam tanto quanto os de grandes autores internacionais como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Arlete Farge, Annelise Riles, Bruno Latour, Marilyn Strathern, Donna Haraway, Paul Virilio, Maurizio Lazzarato, Félix Guattari, Pierre Lévy, Stefan Helmreich e Cornelia Vismann, também vastamente mobilizados em meu trabalho.
Uma breve nota sobre Cornelia Vismann: considero seu livro Files absolutamente genial e completamente diferente de tudo que eu havia lido antes. Uma arqueologia das mídias que fazem o Estado, desde Roma Antiga até os anos 1970, quando os computadores passam a formatá-lo. Brilhante. Vismann também produziu artigos riquíssimos e, infelizmente, faleceu cedo demais. Tone Walford, por sua vez, foi uma das minhas referências mais importantes no que diz respeito à possibilidade de se tomar dados como objeto etnográfico. Aos interessados nas discussões mais contemporâneas a respeito do colonialismo dos dados (principalmente dos ambientais), de sua mercantilização, seu tratamento e circulação, o trabalho de Walford é inspirador. A respeito dos sistemas digitais de recomendação, indico as muito instigantes etnografias de Nick Seaver, inclusive a respeito de plataformas de recomendação musical, como o Spotify.
Além destes trabalhos, preciso mencionar algumas etnografias especificamente a respeito do direito e das práticas da justiça que foram importantes em minhas pesquisas: a etnografia de Andressa Lewandowski, O Direito em Última Instância, e todos os muitos trabalhos da brilhante Ciméa Bevilaqua, que certamente interessará a vários dos estudiosos do direito que porventura ainda não a conheçam. Antropóloga e professora da UFPR, Ciméa escreve com rigor e com primor a respeito, por exemplo, das práticas de uniformização do Estado, que me interessam em particular.
Como disse, não espero que a lista seja exaustiva. Cito esses trabalhos como alguns poucos exemplos de produções bastante próximas, mas de excelente qualidade. A criação acadêmica, muitos de seus melhores insights, parece, se dá nesses encontros e nessas trocas bastante cotidianas. Etnografias como estas que procurei destacar, ainda que partam de interesses e objetos de pesquisa bastante distintos, permanecem sempre ao meu lado, merecem minha atenção. Assim como várias outras produzidas no Hybris, que não caberiam nesta breve entrevista. Estão citadas em meus trabalhos e me ajudam a pôr em prática a antropologia política que pretendo sempre aprimorar.
Importância da leitura e os livros de cabeceira
A literatura é uma ferramenta das mais eficazes para desbloquear a escrita acadêmica. Eu preciso me lembrar disso sempre que estou lutando contra meus textos, sem conseguir seguir adiante. Durante o mestrado, o encontro com O processo de Franz Kafka teve um impacto significativo no próprio desenho de minha dissertação. Já na tese, o livro Cem anos de solidão de Gabriel García Márquez, lido sob a profunda tristeza do isolamento, arrastado, com as crianças, o medo e as incertezas todas, impactou-me enormemente. Ainda que não trate de nada disso, explicitamente, deslocou por completo minha maneira de pensar os arquivos e as ferramentas digitais.
Atualmente, em minha cabeceira está O sumiço da santa de Jorge Amado. Ao longo da pandemia, li muito Jorge Amado para não enlouquecer. E Machado de Assis, e Graciliano. Uma época terrível, mas com esse encontro feliz com a literatura, que preciso retomar de alguma maneira.
Também não posso deixar de mencionar a importância de Virginia Woolf para mim nesses últimos anos de escrita.Além de Orlando – que considero uma obra-prima –, como mãe, mulher e escritora, tenho Um Teto Todo Seu sempre por perto. Nessa última e mesma categoria, também está Natalia Ginzburg, que encontrei meio ao acaso e fiz questão de levar à introdução de minha tese. Acredito que “O meu ofício”, que está em As pequenas virtudes, merece ser lido por toda mãe que se atreva a escrever.
Quer saber mais sobre esses e outros temas? Acesse a página do Diálogos INB e confira todas as entrevistas realizadas com profissionais e professores de diversas áreas do conhecimento!